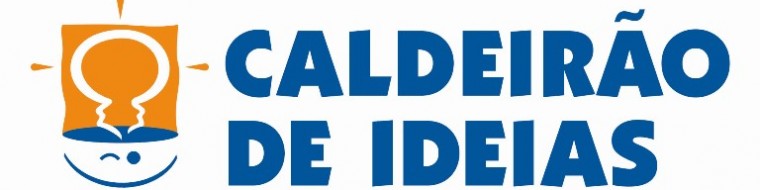Pedro Demo (2012)
Refiro-me ao texto de Baumeister (2011) sobre “poder da vontade”
ou “força de vontade”, como “a maior força humana”, um tema pouco encontrado na
literatura, porque, aparentemente, parece um pouco esotérico. Este texto, no
entanto, traz resultados interessantes e surpreendentes de pesquisa, com enorme
utilidade para a sala de aula, onde estamos já fartos de desmotivação dos
estudantes, excessos de liberdade, agressões a colegas e professores, quase um
“vale-tudo”. Estaria faltando “força de vontade” em nossos jovens (ou também em
nós mesmos)? Baumeister se dispôs a discutir este desafio, usando o que haveria
de mais atualizado na pesquisa, embora em termos suficientemente cautelosos
para manter o tema como “discutível”, não como receita finalizada. Mesmo assim,
como é uso nos Estados Unidos, o texto termina com algumas “dicas” para
aprimorar o autocontrole, talvez porque o autor espere poder aumentar o tom de
utilidade prática de sua discussão. O risco de “moralismo” salta aos olhos,
porque autocontrole cheira a disciplinamento comportamental imposto de fora
para dentro e de cima para baixo, como foi comum em outros tempos “pedagógicos”
movidos pelo autoritarismo ou pelo argumento de autoridade. Hoje sabemos que a
motivação mais efetiva é a automotivação,
como consta enfaticamente em Pink (2009), quando discute o que chama de Homo economicus maturus (homem econômico
maduro): aquele que, ao invés de seguir impulsos individualistas irrefreáveis,
é capaz de os controlar, tanto para seu próprio bem, quanto para o bem comum.
Pessoa adequadamente motivada só pode ser pessoa automotivada, do que segue que controle eficaz só pode ser
autocontrole.
A obra de Baumeister interessou-me porque pode ser apoio
pertinente para a discussão eterna e hoje candente em todo o mundo sobre
“indisciplina” na escola. Não creio que vamos solucionar questão tão complexa,
mas podemos iluminar cientificamente de modos promissores. Interessa-me ainda
discutir até que ponto “força de vontade” seria virtude a ser cultivada em
termos educacionais, se, ao final, é virtude ou adestramento (mesmo que seja
autoadestramento, como é tão comum em pessoas religiosas rigidamente
disciplinadas). Muitos de nós estamos inquietos com os excessos de liberdade da
nova geração, incapaz de se controlar, aguardar para depois, renunciar..., um
problema que poderia, ademais, estar sendo agravado pela velocidade digital:
queremos tudo just in time..., na
hora, imediatamente (Carr, 2010). Ao mesmo tempo, não temos qualquer gana de
retornar ao autoritarismo pedagógico, também inaceitável.
I. RETORNO DO TEMA DA FORÇA DE VONTADE
Baumeister inicia seu texto, discutindo o que seria “sucesso” (a
exemplo de uma família feliz, bons amigos, carreira satisfatória, saúde
robusta, segurança financeira, liberdade para buscar as próprias paixões), em
geral debulhado numa série de qualidades. Quando os psicólogos isolam as
qualidades pessoais que predizem “resultados positivos” na vida,
consistentemente encontram dois traços: inteligência a autocontrole. Vou deixar
de lado aqui o possível questionamento metodológico do método de pesquisa que
se imagina capaz de “isolar” tais dinâmicas, embora seja pretensão comum entre
empiristas (Demo, 2011). De todos os modos, o realce para essas duas “virtudes”
da inteligência e do autocontrole é notável. Baumeister anota que, enquanto os
pesquisadores ainda não encontraram como permanentemente aumentar a
inteligência, já descobriram ou, pelo menos, redescobriram, como aprimorar o
autocontrole (2011:58).
Quando perguntamos às pessoas quais seriam suas maiores forças,
tendem a apontar para honestidade, gentileza, humor, criatividade, bravura e
outras mais, até mesmo modéstia. Autocontrole dificilmente aparece. Por isso
mesmo, os pesquisadores não se dedicaram mais enfaticamente a este tema, mesmo
tendo já analisado mais de um milhão de pessoas pelo mundo afora. Das duas
dúzias de “forças de caráter” listadas no questionário, autocontrole tendeu
sempre a constar entre as últimas. Contudo – eis o paradoxo surpreendente –
quando perguntadas sobre suas falhas, o falta de autocontrole sempre esteve no
topo da lista. Assim, se não aparece como virtude fundamental no lado positivo,
é decisiva no lado negativo. Ademais, a pesquisa sempre desvelou que a presença
de desejos desencontrados nas pessoas é algo normal. “Por volta de metade do
tempo, as pessoas estavam sentindo algum desejo no momento em que soavam os
sinalizadores, sendo que um quarto disse ter sentido um desejo nos últimos
cinco minutos.
Muitos dos desejos eram desejos aos quais as pessoas tentavam resistir. Os
pesquisadores concluíram que as pessoas gastam cerca de um quarto de suas horas
despertas resistindo a desejos – pelo menos quatro horas por dia. Posto de
outro modo, se topar com quatro pessoas a cada momento do dia, uma delas estaria
usando força de vontade para resistir a um desejo. E isto sequer incluía tosas
as instâncias nas quais força de vontade é exercida, porque as pessoas a usam para
outras coisas, também, como tomar decisões” (Baumeister, 2011:93). Esta
temática do desejo sempre foi preocupação importante na vida das pessoas, em
especial com respeito ao desafio da felicidade, ainda que parcimoniosamente
estudada: ao contrário do que se poderia esperar, ser feliz não é ter tudo o
que se pretende, mas ter o que cabe, também porque, ao final, não é questão de ter materialmente (Demo, 2001a); saber
renunciar em geral é referência fundamental de pessoas felizes. Por isso mesmo,
muitas propostas de felicidades implicam dominar ou domar os desejos, em especial
orientais (desafio do nirvana: esvaziar a pessoas de seus desejos): vendo o
descontrole dos desejos como fonte principal da infelicidade, urge colocar
ordem neles, sobretudo acabar com eles. Daí surgiu a figura notável do
“renunciador” (tipo de monge indiano e de outras religiões orientais) que
fizeram da renúncia radical (sair da convivência comum e afastar-se para viver
uma vida de extrema renúncia) (Bellah, 2011) seu lema de vida em nome da
felicidade.
Temos aqui um tipo certamente insolúvel de discussão, porque ao
fundo decidem pendores ideológicos e culturais arraigados e que, enfaticamente,
se postam contra expectativas ocidentais de felicidade muito presas aos bens
materiais e a prazeres imediatos. Para a nova geração, saber renunciar pode parecer
imposição detestável, porque “não ter” lhes parece uma privação insuportável.
Não percebem que a questão mais profunda é “não ser”, algo que muitas culturais
perceberam e valorizaram enormemente, em especial religiões. Viver no
convento/mosteiro cristão para sempre ou afastar-se do convívio comum para
viver nas periferias (em mosteiros ou não), na privação material e sem sexo,
dificilmente seria “ideal de vida” para o ocidental típico. No bojo da cultura
consumista, a economia faz de tudo para atrair a pessoas para o consumo,
garantindo que felicidade é isso, apenas isso. Moderar-se, controlar-se,
renunciar soam como conselhos impróprios e de gente antiquada, de uma velha
guarda que coloca disciplina acima da satisfação pessoal. Com respeito aos jovens,
é comum que pais façam de tudo para satisfazer ao que os filhos querem, em
parte por pieguice e à revelia do que dizem educadores (Tiba, 2007; 2007a), em
parte porque se imagina que educar, hoje, implica ter os filhos com suas
necessidades e desejos satisfeitos. Privá-los do que desejam pareceria uma
intervenção violenta. Educadores, em geral, não seguem isso, porque apontam
para os riscos de crianças que crescem sem limites: experiências educacionais
que tentaram montar ambientes nos quais os estudantes fazem o que querem, sem
normas e disciplinas, nunca deram certo, tendo como exemplo Summer Hill (2012).
Não seria difícil mostrar o contrário: ambientes ditatoriais também são
intrinsecamente deseducativos (Illich, 1971). Provavelmente, precisamos de um meio
termo.
Para Baumeister, esta volta do tema da vontade em psicologia
retoma a percepção de que teorias brilhantes são baratas. Em geral espera-se
por achados retumbantes de algum gênio, ainda que ter ideias brilhantes não seja
desafio maior. Todo mundo tem uma teoria de algibeira para o que e como
fazemos, razão pela qual facilmente se desdenha dos psicólogos com alusões como
“minha avó já sabia”. “Progresso em geral não provém das teorias, mas de alguém
que descobre um modo de testar a teoria, como sugeriu Mischel (Mischel &
Ayduk, 2004. Mischel, 1974. Mischel et alii, 1988. Shoda et alii, 1990). Ele e
seus colegas estavam teorizando sobre autorregulação – na verdade, não tinham
sequer discutido seus resultados em termos de autocontrole ou força de vontade
há muitos anos atrás. Estavam estudando como uma criança aprende a resistir à
gratificação imediata, e descobriram um modo novo criativo de observar o
processo em crianças de quatro anos. Trariam as crianças, uma de cada vez, numa
sala, mostrar-lhes-iam um malvavisco (marshmallow)
e oferecer-lhes-iam uma aposta antes de as deixar sozinhas na sala. As crianças
poderiam comer o malvavisco sempre que quisessem, mas se renunciassem até que o
experimentador voltasse, receberiam um segundo malvavisco para comerem juntos.
Algumas crianças devoraram tudo logo; outras tentaram resistir, mas não
aguentaram; algumas conseguiram esperar os quinze minutos inteiros para uma
recompensa maior. As que tiveram sucesso, tenderam a fazer isso apelando para
distrações, o que pareceu ser um achado bastante interessante ao tempo dos
experimentos, nos anos 60. Muito mais tarde, porém, Mischel descobriu algo a
mais, graças a um golpe de boa sorte. Suas próprias filhas frequentavam a mesma
escola, no campus da universidade de Stanford, onde ocorreram os experimentos
do malvavisco. Bem antes de terminar os experimentos e passar para outros
assuntos, Mischel continuou a ouvir de suas filhas sobre os colegas de classe.
Notou que as crianças que haviam falhado em esperar pelo malvavisco extra
pareciam ter mais tropeços que as outras, tanto dentro, quanto fora da escola.
Para ver se aí se poderia achar algum padrão, Mischel e seus colegas rastrearam
centenas de veteranos dos experimentos. Descobriu-se que aqueles que mostraram
maior força de vontade aos quatro anos foram os que continuaram em frente com
melhores notas e escores de teste. As crianças que aguentaram resistir por 15
minutos inteiros acabaram obtendo escores de 210 pontos acima no SAT (exame
tipo vestibular) do que aquelas que desabaram após a metade do primeiro minuto”
(Baumeister, 2011:216). Realmente, Baumeister teve também sorte, ao incluir
suas filhas como monitoras do experimento! Saiu barato e foi brilhante: um
resultado extremamente elucidativo.
Notou-se que crianças com força de vontade cresciam tornando-se
mais populares com seus pares e professores. Tendiam a ter maiores salários.
Tinham também índices mais baixos de massa corporal, sinalizando ter propensão
menor para ganhar peso, à medida que se chegava à meia idade. Alegavam ter
menos problemas com abuso de drogas. Quer dizer, resultados estupendos, já que
é enormemente difícil mensurar algo na infância que poderia ter tamanho poder
de predição em nível significante. Aliás, recordando os esforços de Freud de que
a infância pesava fortemente na vida adulta, o que faltou foi esse poder de
predição satisfatoriamente mensurado (Wolfe & Johnson, 1995. Moffitt et
alii, 2010. Tangney et alii, 2004). Revisando este tipo de literatura nos anos
90, Seligman (1993) concluiu que dificilmente haveria alguma prova de que
episódios na primeira infância poderiam ter impacto causal na personalidade
adulta, com exceção possível de trauma severo ou má nutrição. Mais
recentemente, chega-se a reconhecer que “autodisciplina é mais efetiva para
predizer desempenho acadêmico do que o QI” (Duckworth & Seligman, 2005). Baumeister,
Heatherton e Tice (1994), sem meias palavras, dizem que “o fracasso da
autorregulação é a maior patologia social de nosso tempo”, levando-se em conta
índices crescentes de divórcio, violência doméstica, crime etc. Esta obra
estimulou mais experimentos e estudos, incluindo-se o desenvolvimento de uma
escala de medida de autocontrole em testes de personalidade. “Quando os
pesquisadores compararam notas de estudantes com perto de trezes traços de
personalidade, autocontrole acabou se tornando o único que predizia a média da
nota estudantil mais que mero acaso. Autocontrole também se provou ser o melhor
preditor de notas na faculdade do que o QI do estudante ou o escore no SAT.
Embora inteligência crua seja obviamente uma vantagem, o estudo mostrou que o
autocontrole era mais importante porque ajudava os estudantes a mostrarem-se
mais confiáveis para aproveitarem as aulas, começarem seus trabalhos de casa
mais cedo e gastar mais tempo trabalhando e menos tempo vendo televisão”
(Baumeister, 2011:216).
II. IMPORTÂNCIA DO AUTOCONTROLE CRESCE
“A evidência mais forte, no entanto, foi publicada em 2010. Num
estudo sofrido de longo prazo, muito mais amplo e mais completo do que qualquer
outro feito anteriormente, uma equipe internacional de pesquisadores rastreou
mil crianças em Nova Zelândia desde o nascimento até a idade de 32 anos. O
autocontrole de cada criança foi classificado numa variedade de maneiras
(através de observação por pesquisadores, bem como de registros de problemas a
partir dos pais, professores e de outras crianças). Isto produziu uma
mensuração especialmente confiável do autocontrole das crianças e os
pesquisadores foram capazes de checar contra um espectro extraordinariamente
amplo de resultados através da adolescência até à idade adulta. As crianças com
alto autocontrole cresceram para adultos que tinham melhor saúde física,
incluindo menores índices de obesidade, menos doenças transmitidas sexualmente
e mesmo dentes mais saudáveis. (Aparentemente, bom autocontrole inclui escovar
os dentes e passar fio dental). Autocontrole foi irrelevante em depressão
adulta, mas sua falta tornou pessoas mais propensas ao álcool e a problemas com
drogas. As crianças com autocontrole fraco tendiam a desenvolver-se mais
problematicamente em termos financeiros. Trabalhavam em empregos relativamente
mal pagos, tinham pouco dinheiro no banco e tinham menor probabilidade de
possuir uma casa ou ter poupança para a aposentadoria. Desenvolveram-se tendo também
mais crianças sendo cuidadas em domicílios de um progenitor só, presumivelmente
porque tinham tempo mais difícil para adaptar-se à disciplina requerida para
relacionamento de longo prazo. As crianças com bom autocontrole tinham maior
chance de construir um casamento estável e criar filhos numa casa de dois
progenitores. Por fim (ainda que não seja a questão menos relevante), os filhos
com autocontrole fraco eram mais propensos a acabar na prisão. Entre aquelas
com menor nível de autocontrole, mais de 40% tinham condenação criminal aos 32
anos, comparadas como apenas 12% das pessoas que tinham estado no topo da
distribuição de autocontrole em sua juventude” (Baumeister, 2011:229). É
respeitável este esforço de pesquisa, tão amplo e concertado, mesclando métodos
de observação e análise, mas mais interessante é a corroboração da hipótese do
autocontrole como estratégia ou tecnologia fundamental para a vida futura. Os
resultados são altissonantes.
Procurou-se mais corroboração em outras dimensões, com destaque
para biologia animal. Procurando-se explicações para cérebros maiores,
aludiu-se já a bananas e frutos ricos em calorias. Enquanto isso, animais que
pastam não precisam preocupar-se com a próxima refeição: está tudo à mão (ou à
boca). A bananeira que, há uma semana, tinha bananas maduras, no ponto, hoje
pode estar sem nada ou com restos apenas. Um comedor de banana precisa de um
cérebro maior para lembrar de onde estão frutos maduros, tendo ainda como
compensação nutrir-se das devidas calorias, de sorte que a “teoria do cérebro
que procura banana” fazia sentido, embora apenas em teoria. O antropólogo
Dunbar (1998) não encontrou suporte, ao estudar os cérebros e dietas de animais
diferentes, não havendo, para ele, correlação entre tamanho do cérebro e tipo
de comida. A hipótese de Dunbar não se vincula com o ambiente físico, mas com
algo ainda mais crucial para a sobrevivência: vida social. Constatou que animais com cérebros maiores tinham
redes sociais mais complexas, abrindo um novo horizonte para entender o homo sapiens. “Humanos são os primatas com os lóbulos
frontais maiores porque temos os maiores grupos sociais, e é por isso
aparentemente que temos a maior necessidade de autocontrole. Tendemos a pensar
de força de vontade como uma força para melhoramento pessoal – assumindo uma
dieta, terminando o trabalho no tempo previsto, saindo para fazer exercício,
deixar de fumar – mas esta não é provavelmente a razão primária de sua evolução
tão plena em nossos antepassados. Primatas são seres sociais que têm de
controlar a si mesmos para conviver com o resto do grupo. Dependem uns dos
outros para comida de que precisam para sobreviver. Quando a comida é
compartilhada, muitas vezes é o macho maior e mais forte que tem a primeira
escolha no que comer, enquanto os outros esperam sua vez conforme o status.
Para que os animais sobrevivam em tal grupo sem serem maltratados, precisam
restringir seu impulso de comer imediatamente. Chimpanzés e macacos não
poderiam comer pacificamente, se tivessem cérebros de esquilos. Precisam gastar
mais calorias em lutar do que iriam consumir na refeição” (Baumeister,
2011:253). Parece engenhosa esta elucubração. De fato, para viver em redes
sociais é imprescindível renunciar em face de rivais que gostariam de ter a
mesma chance ou de aproveitar-se da chance dos outros, ou mesmo pelo fato de
ser viver em grupo. Entra também a habilidade de cálculo, através do qual
pode-se ponderar qual seria o momento mais propício para termos as necessidades
e desejos satisfeitos, implicando planejamento, renúncia, estratégia, uma
elaboração já bastante sofisticada do cérebro. Não é, certamente, uma
explicação suficiente, porque esta possivelmente jamais teremos.
Para humanos, um dos controles mais complicados é das emoções (Lewis
et alii, 2000). Embora hoje se assuma que fazem parte da racionalidade, não
sendo, pois, seu antípoda (Damásio, 1996; 1999), é habilidade enorme saber
lidar com elas, retirando delas as energias vitais de que precisamos para nossa
motivação. Podemos facilmente nos sentir sobrecarregados por eventos
frustrantes, ou entristecidos por ocorrências desagradáveis, bem como mais
felizes por boas novas; mas isto pode estar sucedendo porque o controle
emocional não está funcionando como imaginaríamos. É importante analisar
sentimentos, não se deixar sucumbir neles, como é importante resistir a
tentações, para usar um conselho antigo de gente religiosa. No entanto,
resistir a tentações pode também implicar maior atração por elas. Sabemos que o
proibido é mais gostoso, desde sempre, ou desde Adão e Eva. Em termos da
pesquisa, os experimentos têm demonstrado duas lições: i) temos um montante
finito de força de vontade que se exaure, usando-a; ii) usa-se o mesmo estoque
de força de vontade para todo tipo de tarefas (Baumeister, 2011:547). Em
palavras mais populares, força de vontade cansa rápido, não se pode ser herói
toda hora, ninguém é de ferro. Lidar com emoções fortes é um desafio extremo,
por conta das infindas ambiguidades envolvidas, que vão desde a motivação mais
radical e efetiva, até ser tragado por tais vulcões indomáveis. Força de
vontade é um trunfo que precisa ser reconstruído diariamente. Não é um estoque
fixo e sempre disponível, garantido.
Baumeister categoriza o uso da força de vontade em quatro categorias,
começando com o controle dos
pensamentos. Por vezes é uma luta perdida quando se quer, sem êxito,
ignorar algo sério (esquecer algo que nos atormenta), ou quando queremos nos
livrar de algo que bate no ouvido. Controlar os pensamentos não pode ser tarefa
completa, porque eles vazam por entre as comportas e tapumes, mas é possível
avançar nessa direção. Pode-se também aprender a focar, em especial quando a
motivação é forte. Há pessoas que conservam sua força de vontade procurando,
não a melhor ou a plena reposta, mas uma conclusão predeterminada. Assim
procedem teólogos e crentes: filtram o mundo de modo que o mundo se adapte a
princípios tidos por não negociáveis de sua fé. Os melhores marinheiros muitas
vezes têm êxito, enganando-se a si mesmos; banqueiros fizeram empréstimos
mobiliários ignorando regras comezinhas de empréstimo (por exemplo, não se
empresta a quem não tem renda adequada) (Baumeister refere-se à bancarrota dos
bancos imobiliários americanos e seus empréstimos podres); Tiger Wood (campeão
mais renomado do golfe e que se envolveu com aventuras extraconjugais) se
convenceu de que monogamia não era para ele e que poderia ficar incógnito e
impune em seus affaires. Aprender a focar, claramente, é uma espada de dois
gumes: quando o foco é obsessivo, não se vê mais nada. Uma segunda categoria é
o controle das emoções, ou a
regulação do afeto quando focada no humor: particularmente difícil porque, em
geral, não se muda o humor por um ato de vontade. “Pode-se mudar o que se pensa
ou como se comporta, mas não se pode forçar a ser feliz. Podem-se tratar seus
parentes por parte da esposa polidamente, mas não pode regozijar-se com sua
visita já de um mês” (Id.:581). Para precaver-se de tristeza ou raiva, usam-se
estratégias indiretas como distrair-se, fazer exercícios, ou mesmo meditar,
quando se usam expedientes mais inadequados como bebedeira, perder-se na noite,
etc.
Uma terceira categoria é o controle
do impulso, desfio mais associado com força de vontade (resistir a
tentações como álcool, tabaco, chocolate, comida boa etc.). Na prática, não
controlamos os impulsos, porque impulso é, por definição, algo fora de
controle. Mas podemos cercar a questão com iniciativas inteligentes, por
exemplo, evitando causas e ocasiões dos impulsos. Se sabemos que, indo a um
bar, corremos o risco de nos embebedar, é melhor não ir. Se já sabemos que,
paquerando a servente da festa, posso arranjar os maiores problemas, seria mais
ajuizado não se permitir isso. Por fim, há o controle do desempenho, focando a própria energia na tarefa
à mão, procurando a combinação correta de velocidade e acuidade, regulando o
tempo, perseverando até ao final. Há estratégias para aprimorar esses tipos de
controle, variando também nas culturas e tradições. Aquelas mais consonantes com
a pesquisa científica se voltam para iniciativas que reforçam a automotivação,
mais que qualquer sugestão de fora. Força de vontade precisa ser construída, e
reconstruída todo dia. Cabe, então, a pergunta: se força de vontade não é só
metáfora, mas, existindo algo como “força” impulsionando esta virtude, donde
viria?
A resposta apareceu acidentalmente de um experimento fracassado
inspirado na terça-feira do carnaval e de outros carnavais festejados na
véspera da quaresma. Terça-feira do carnaval é chamada de “Mardi Gras” (Terça Gorda, em francês), o dia antes da quarta-feira
de cinzas, quando as pessoas se preparam para um tempo de jejum e
autossacrifício, por conta de terem vergonhosamente cedido a seus desejos. Em
certos lugares é conhecida como Dia da Panqueca, que começa com cafés da manhã
nos quais se podem comer todas as panquecas em igrejas. Padeiros prestigiam a
ocasião produzindo fôrmas especiais, variando seus nomes de cultura a cultura,
e cuja receita inclui montanhas de açúcares, ovos, farinha, manteiga e
toucinho. A comilança é só o começo. “Desde Veneza, passando por Nova Orleans,
até Rio de Janeiro, os farristas se movimentam em torno dos vícios mais
atraentes, por vezes sob máscaras tradicionais, mas por vezes deixando tudo à
mostra. É um dia em que se pode demonstrar-se na rua com adereços na cabeça e
nada mais, orgulhosamente correspondendo aos aplausos de bêbados. Perder o
autocontrole torna-se uma virtude. No México, homens casados recebem
oficialmente um dia de liberdade de suas obrigações conjugais, dia chamado de
‘El día del marido oprimido’... Na véspera da quaresma, mesmo os paroquianos
anglo-saxões mais rígidos se encontram com humor de perdão. Chamam de Terça do
Perdão (Shrove Tuesday), derivado do
verbo ‘shrive’, que significa ‘receber
absolvição pelos pecados’” (Baumeister, 2011:612). Toda essa armação, na qual
estão metidas também entidades religiosas, indica que autocontrole é uma
virtude tão importante e exigente que, pelo menos alguma vez no ano, será
permitido não cumprir. Sugere-se que não é realista esperar autocontrole o ano
inteiro, todo dia, nem mesmo de devotos fiéis. Depois do carnaval vem a
quaresma, tempo de jejum e abstinência, quando se volta ao sério de novo.
Antes, porém, há alguns momentos de férias, nos quais pode valer tudo em termos
de seguir os desejos sem qualquer pudor. A resposta acidental à pergunta feita
acima seria, então: a “força” advém da capacidade, muitas vezes religiosa, de
resistir às tentações, praticando a
renúncia.
III. FORÇAS RELIGIOSAS
Religiões são um fenômeno de rara ambiguidade, além de força
histórica incomum (Bellah, 2011. Shermer, 1997; 1999). Não há grupo humano
conhecido que não estruture este tipo de manifestação, e também nos tempos
modernos (e pós-modernos), religiões não cessam de aparecer, sempre mostrando
dupla face: de um lado, satisfazem necessidades básicas humanas que, sob a
forma da religiosidade ou espiritualidade, podem alcançar expressões de rara
virtude e autorrealização; de outro, são negócios escusos, máquinas de guerra,
fundamentalismos exclusivistas, povos
eleitos” e outros tantos vícios segregacionistas, à sombra de Deus (ou deuses)
bem urdidos para sustentarem as respectivas hierarquias. Um dos traços mais
imponentes das religiões é a imposição de múltiplas formas de autocontrole,
tendo sua expressão máxima nos “renunciadores” orientais ou nos monges
ocidentais (cristãos), capazes de renunciar ao sexo, à riqueza e mesmo à
própria vontade (obediência). Qualquer atividade religiosa aumenta a
longevidade (McCullough & Willoughby, 2009. McCullough et alii, 2000), segundo
visão de McCullough e colegas, compulsando mais de três dúzias de estudos que
haviam perguntado às pessoas sobre suas devoções religiosas e acompanhando-as
no tempo. Descobriu-se que pessoas não religiosas morriam antes e que, em
qualquer ponto do tempo, uma pessoa ativamente religiosa tinha 25% a mais de
chance de ficar viva. A pesquisa disponível só tem confirmado tais resultados.
Algumas das pessoas com vida longa alegam que Deus estaria diretamente respondendo
a suas preces, embora esta não seja hipótese válida para cientistas. Estes
encontraram razões mais terrenas. De fato, pessoas religiosas tendem menos que
outras a desenvolver hábitos não saudáveis, como bebedeira, sexo arriscado,
drogas ilícitas, cigarro. Tendem mais a usar cintos de segurança, ir ao
dentista, tomar vitaminas. Com suporte social de outros crentes, sua fé ajuda a
lidar com infortúnios, sendo uma das virtudes mais eminentes o autocontrole. O
estudo de McCullough & Willoughby (2009) teria mostrado: “religião promove
valores familiares e harmonia social, em parte porque alguns valores ganham em
importância quando se supõem vinculados à vontade de Deus ou a outros valores
religiosos. Benefícios menos óbvios incluíam o achado de que religião reduz
conflitos internos das pessoas entre diferentes objetivos e valores. Como
anotamos antes, objetivos em conflito impedem a autorregulação; assim, a
religião reduz tais problemas oferecendo aos crentes prioridades mais claras”
(Baumeister, 2011:2614).
Esta argumentação ilustra o valor de uma vida sem vícios, sem
entrar no mérito se o autocontrole implicado poderia ser justificado sem mais.
Viver a vida toda trancado no convento, sob a fé de estar seguindo o exemplo de
Cristo que também assim viveu – em total renúncia – pode ser visto como projeto
estranho de vida, em especial para denominações religiosas que seguem a
teologia da prosperidade, não do despojamento, como foi a vida de Cristo
relatada no Novo Testamento. Mas é conhecido que pessoas religiosas com este
nível de renúncia possuem grande chance de vida longa, em grande parte porque
não praticam vícios arriscados ou diretamente danosos, sem falar num estilo de
vida tranquilo, sem maior estresse. A religião afeta dois mecanismos centrais para
autocontrole: construir força de vontade e aprimorar o monitoramento. Desde o
início dos anos 20, pesquisadores já notaram que estudantes investindo maior
tempo na escola dominical apresentavam escores mais elevados em testes de
laboratório de autodisciplina. Crianças com devoção religiosa mais visível
mostram impulsividade relativamente menor frente aos pais e professores. A
pesquisa não saberia (ainda) responder se orar/rezar aprimora o autocontrole,
mas tais rituais acabam colaborando na construção da força de vontade como todo
exercício de ascese, incluindo-se sentar de modo adequado e falar com precisão.
Também exercícios de meditação envolvem esforço de autorregulação e atenção,
como no caso conhecido da meditação zen, que começa contando a respiração até
dez e depois de novo e de novo. A mente facilmente vagabundeia, mas na
meditação é forçada a concentrar-se disciplinadamente. Efeito similar poderia ser
rezar o rosário, cantar salmos hebreus, repetir mantras dos hindus. “Quando os
neurocientistas observam as pessoas rezando ou meditando, veem atividade
incisiva em duas partes do cérebro que também são importantes para a
autorregulação e controle da atenção. Psicólogos veem um efeito quando expõem
pessoas a palavras religiosas subliminarmente, significando que palavras são
lançadas numa tela tão rapidamente que as pessoas não se conscientizam do que
viram. Pessoas expostas subliminarmente a palavras religiosas como Deus ou
Bíblia se tornam mais vagarosas em reconhecer palavras associadas com tentações
como drogas ou sexo pré-marital” (Id.:2615). Observa McCullough que, na
pesquisa, se tem a impressão de que as pessoas associam religião com o poder de
dominar tentações, sugerindo que rituais de oração e meditação são um tipo de
execução anaeróbica para autocontrole (Baumeister, 2011:2627).
Religião contribui para o autocontrole, entre outras coias,
organizando o dia e o tempo em geral, em torno de rituais que o devoto assume,
obrigando-o a se disciplinar. Algumas religiões, como o islã, exigem orações em
determinados momentos do dia, outras prescrevem tempo de jejum, como o Yom
Kippur dos judeus, o mês do Ramadan islâmico, os quarenta dias da quaresma dos
católicos. Por vezes há regras para comer que mandam suprimir certas iguarias
ou prescrevem o vegetarianismo. Tendo Deus como presença constante, os
religiosos se monitoram porque se sentem monitorados. Este controle é só
aumentado pelo controle de outros religiosos à volta. O sacramento da confissão
entre católicos, implicando contar para o padre seus pecados, se quiser perdão,
é uma tática de monitoramento muito forte, invasiva. Baumeister afasta a
alegação de que este autocontrole é resultado apenas do medo de Deus, porque é
preciso levar em conta todo o universo circundante de valores religiosos fortemente
autodisciplinadores. As denominações pentecostais atuais (religiões ditas
evangélicas recentes) vangloriam-se, entre outras coias, de arrumarem a vida
das pessoas em todos os sentidos: refazem casamentos, reaproximam famílias,
consertam a vida de negócios, disciplinam valores e atitudes, em especial
afastam vícios (drogas, álcool, desregramento), além de, exigindo o dízimo de
cada um, montar um controle financeiro na vida de todos. É um grande trabalho e
que justifica, em parte, o envolvimento forte que gera nas pessoas. Pode-se
discutir até morrer sobre a oportunidade e mesmo decência de tais iniciativas
religiosas, por exemplo, que a hierarquia não tem nada a ver com a vida
concreta de Cristo (o exemplo mais radical de autocontrole, despojamento, autodisciplina),
se locupleta à custa do dízimo dos mais pobres, montam impérios para um
pretenso Deus que aprecia o fausto (de novo, nada a ver com Cristo), mas que é
desfrutado pelos pastores e chefes. Nada de novo, porém. Todas as religiões
surgem para acabar com as outras, e fazem a mesma coisa, abusando da linguagem
do amor... Ironicamente, o ambientalismo de hoje conclama a humanidade para
renunciar a desperdícios, indicando que a vida no Planeta só é viável se todos
souberem restringir suas ganâncias. De uma forma ou de outra, estamos buscando
os “10 mandamentos” do bom comportamento ambiental! Assim, um corpo amplo e
novo de pesquisa reconhece o valor de práticas religiosas, ou regras como essa:
“O melhor modo para reduzir estresse em sua vida é parar de contorcer-se.
Significa arrumar sua vida de sorte a se ter uma chance realista de êxito.
Pessoas exitosas não usam força de vontade como defesa de última trincheira
para as parar do desastre, pelo menos não como estratégia regular, como
Baumeister e seus colegas observaram recentemente nos dois lados do Atlântico.
Quando monitoraram alemães durante o dia (com observações monitoradas por
bips), os pesquisadores ficaram surpresos em encontrar que as pessoas com forte
autocontrole gastavam menos tempo resistindo aos desejos do que outras”
(Baumeister, 2011:3474).
IV. PARA APRIMORAR O AUTOCONTROLE
Baumeister, seguindo a tradição americana de transformar ciência
em autoajuda, também oferece “dicas” ou “fórmulas” para aprimorar o
autocontrole. Talvez seja a parte mais questionável de sua obra, mas, não sendo
demasiadamente exigente neste caso, podemos observar o que ele prescreve.
Começa censurando com veemência a procrastinação (deixar para depois), “um
vício quase universal” (2011:3498). Em surveys modernos, 95% das pessoas
admitem procrastinar pelo menos às vezes, um “pecado” que estaria se alastrando
com a multiplicação das tentações. Segundo Steel (2011; 2007), analisando dados
das últimas quatro décadas, concluiu que houve aumento incisivo dos procrastinadores.
Em surveys americanos, mais da metade se diz crônico procrastinador, sendo que
trabalhadores também assumem que, por dia, jogam fora duas horas de trabalho,
deixando as coisas para depois. Por vezes, a procrastinação pode ser devido ao
perfeccionismo, mas isto é raro e serve mais como desculpa. A questão mais
importante parece ser a impulsividade, o que acabou sugerindo que
procrastinação é mais própria do homem: homens possuem impulsos mais difíceis
de controlar. Em vez de enfrentar o problema que surge, deixam para depois e
buscam outras ocupações secundárias, também para se conseguirem recompensas
imediatistas. Alguns chegam a dizer que produzem melhor sob pressão, mas estão,
como mostram as pesquisas, enganando a si mesmos.
Primeira lição do “Willpower
101” (101 é número usado para indicar uma lista de coisas essenciais, neste
caso para aprimorar a força de vontade) (101.2012): “Conheça seus limites” (Baumeister, 2011:3547). Tomando em conta
que, i) o suprimento de força de vontade é limitado e ii) que usamos este
recurso para muitas outras tarefas, é fundamental medir o tamanho dos ombros,
para saber o que e como carregar. Ademais, o mundo de hoje é mais complexo,
impõe mais expectativas e exigências, em meio a novos atrativos e distrações. Por
mais que, olhando de modo otimista, limites sejam desafios, só vencemos
desafios limitados, para sermos minimamente realistas. A seguir vem a lição: “Observe sintomas” (Baumeister,
2011:3568). É preciso auscultar sintomas tênues, sutis, mas decisivos, que
indicam nossas fraquezas e chances. As coisas não podem nos preocupar mais do
que merecem, nem de menos, o que pede desconfiômetro, serenidade e capacidade
de decisão. “Escolha suas batalhas”
– é outra lição. Não se podem controlar ou predizer os estresses que incidirão
sobre a vida, mas, podemos, nos períodos de calma, ou pelo menos em momentos
mais pacíficos, planejar nosso ataque. Podemos evitar batalhas perdidas, cuja
luta é só perda de tempo. Podemos divisar estratégias para podermos chegar mais
longe. Podemos poupar energias preciosas. “Faça
uma lista de tarefas” – é a próxima lição. Se não quisermos ser
propositivos logo de saída, podemos começar pelo outro lado: tarefas que não
devem ser feitas..., aquelas preocupações que não nos deveriam preocupar,
aqueles desgastes de que não precisamos, aquelas trapalhadas que nada
acrescentam. Esta lista depende, naturalmente, do conhecimento que se tem de si
mesmo: nossos fortes e nossos fracos.
“Fuja da falácia do
planejamento” – sinaliza a importância de não planejar o que não tem muita
chance de acontecer, como se, só por planejar, garantimos a realização.
Baumeister dá como exemplo a promessa de prédios em construção que nunca
terminam no prazo e custam mais do que se havia prescrito. Muito menos, podemos
planejar que termine seis meses antes... “Não
esqueça o básico” – Trata-se de não deixar de lado tarefas básicas – dá o
exemplo de trocar as meias todos os dias – imaginando que, com isso, se poupa
tempo para, digamos, estudar mais para a prova. Na prática é contraproducente,
porque não trocar as meias, não lavar a louça, não cuidar dos cabelos, não preparar
comida saudável acabam incidindo em situações vexatórias que reduzem ainda mais
nossa capacidade de reação. Além do mais, tais procedimentos interferem nos
outros, que, vivendo juntos, precisam conviver com meias sujas, louça por
lavar, cabelos mal cheirosos, comida ruim... Faz parte do autocontrole bem
feito ter as coisas básicas da vida bem arrumadas. Esta lista pode ter sua
utilidade, mesmo que tenha sabor de autoajuda. Não custa transformar resultados
de pesquisa em indicações práticas. O problema é que se acredita demais em
saídas automáticas ou miraculosas, perdendo-se de vista que chances podem vir
por acaso, mas é mais prudente correr atrás delas.
Analisando o “futuro do autocontrole” (Baumeister, 2011:3784),
Baumeister questiona o vezo antigo de colocar o autocontrole nas mãos de Deus
ou nos comparsas de mesma religião. “Preceitos divinos e pressão social a
partir do resto da congregação tornaram religião o promotor mais poderoso do
autocontrole para a maior parte da história. Hoje, muito embora a influência da
religião esteja recuando em alguns lugares, as pessoas estão aprendendo outros
modos para empurrar o autocontrole para os outros: amigos, smartphones, sites
da web que monitoram comportamentos e forçam apostas, para vizinhos que se
reúnem na igreja e para redes sociais conectadas eletronicamente. Temos novas
ferramentas para quantificar quase tudo que fazemos e compartilhamos isso com
novas congregações. Entrementes, cada vez mais pessoas chegam a perceber que
autocontrole fraco é central para problemas pessoais e sociais” (Ib.). O ponto
crucial do autocontrole não é “produtividade”, porque as pessoas hoje já não
precisam trabalhar tão arduamente. No século XIX, o trabalhador típico tinha
mal e mal uma hora livre por dia e não existia aposentadoria. Hoje, gastamos
por volta de um quinto das horas despertas no trabalho. Baumeister avalia que o
tempo restante é, na verdade, um surpreendente dom, sem precedentes na história
humana, mas isto exige um tipo nunca dantes visto de autocontrole para o
desfrutar bem. Facilmente preferimos procrastinar, mesmo quando se trata de
prazer, supondo que, no futuro, teremos ainda mais tempo. Assumimos um compromisso
em três meses no futuro, quando não o faríamos jamais se estivéssemos a uma
semana dele. Dizemos sim, imaginando que no futuro tudo se resolve com o
próprio tempo. Deixamos de ir ao zoológico ou passear num fim de semana, sem
perceber que são, na maioria das vezes, chances perdidas. Por isso, Baumeister
considera estratégia importante saber atacar, ficar na ofensiva, não deixar
nada para depois. Sendo nosso tempo na terra limitado, urge aproveitá-lo todo.
Entre as descobertas mais significativas de Baumeister é que “pessoas com força mais forte de vontade são
mais altruístas” (Ib.). São mais capazes de fazer doações, trabalho
voluntário e oferecer suas casas para abrigar desabrigados. “Força de vontade
evoluiu porque foi crucial para nossos ancestrais conviver melhor com o resto
do clã, e ainda serve a este propósito hoje. Disciplina interna ainda orienta
para gentileza externa. É por isso que, a despeito de todas as fraquezas e
fracassos descritos nesse livro, há razão para sermos agressivos no autocontrole.
Força de vontade está evoluindo. Muitos de nós sucumbiram recentemente a novas
tentações, e haverá um montão de novos desafios pela frente. Mas,
independentemente do que novas tecnologias vão oferecer, ou independentemente
de quão avassaladoras algumas das novas ameaças pareçam, os humanos possuem a
capacidade de lidar com elas. Nossa força de vontade nos tornou as criaturas
mais capazes do planeta e estamos redescobrindo como nos ajudar mutuamente.
Estamos aprendendo, de novo, que força de vontade é a virtude que mais nos
distingue como espécie, e o que nos torna fortes” (Ib.).
Não sei se tantas promessas são minimamente realistas, também
porque aparece em Baumeister uma valorização excessiva dos humanos como
expoentes da natureza, encontrando no autocontrole uma das alavancas de sua
“superioridade”. Estamos aprendendo que esta visão está ultrapassada (Latour,
2005), porque todas as virtudes humanas são expressões da mesma natureza,
naturais, portanto, não “superiores”. Poderíamos talvez alegar que força de
vontade é uma tecnologia mais desenvolvida nos humanos, com alguma ligação
(ainda pouco decifrada) com nossos cérebros maiores, sem falar que seu apreço
também depende de contextos culturais. Há culturas que apreciam o trabalho como
sentido da vida, como se pode averiguar da proposta marxista (trabalho é a
categoria central da sociedade, por isso “Partido dos Trabalhadores”
representam a sociedade inteira, não só trabalhadores), enquanto outras podem
divisar no trabalho também seus traços degradantes. Em sociologia, é conhecida
a tese de Weber sobre a ética protestante ou o espírito do capitalismo
(ironizado na obra marcante de Boltanski & Chiapello, 2005), segundo a qual
culturas que apreciam trabalho como sentido da vida se desenvolvem melhor, também
porque mais facilmente economizam para investir (sabem renunciar). Esta tese
insinua que culturas católicas, por exemplo, em geral são mais atrasadas,
possivelmente porque nelas se trabalha menos... A Europa nórdica e países
similares (Estados Unidos, Austrália, etc.) são países mais avançados e que
também apreciam novas tecnologias e conhecimento inovador, gerando ambientes de
maior competitividade e produtividade. Este tipo de visão, ainda que pareça ter
evidências empíricas, desanda facilmente em etnocentrismos dos quais a Europa
está cheia e que estão presentes em guerras mundiais massacrantes. Ressoa aí a
noção pérfida do “povo eleito” bíblico: este fabrica seu Deus que, por sua vez,
diz o que este povo quer ouvir, em especial o mandato de evangelização geral de
todos sob um fundamentalismo só, sem esquecer o dízimo para a hierarquia.
É preciso – gostaria de argumentar – distinguir modos de
autocontrole. Há aquele feito para garantir superioridade bélica, produtiva,
cultural, onde a renúncia é mormente estratégia colonialista. Mas há aquele que
podemos encontrar em filosofias de vida oriental, voltado para o controle dos
desejos e para a renúncia em nome de outras dimensões da sociedade, com a
mensagem enfática de que vida que vale a pena é aquela da qual temos controle
por automotivação. Não é difícil ver – vemos em casa todo dia com nossos filhos
– que pessoas com autocontrole mais avançado se produzem chances mais
interessantes na vida, porque correm atrás delas, investem tempo e dedicação
para se prepararem, recomeçam sem desânimo, perseveram. Esta mensagem me parece
importante como filosofia de vida e como tentativa de redescobrir que, em
educação, esta visão é importante. Se criamos filhos sem limites, eles não
terão limites, e as primeiras vítimas podemos ser nós mesmos. Ao mesmo tempo,
conseguir que os filhos percebam a importância de limites é uma engenharia
finíssima, a maior pedagogia imaginável, porque implica suscitar uma criatura
capaz de entender que ela mesma precisa saber limitar-se em nome da convivência
possível. Podemos, como fez muito bem Baumeister, observar essa questão nas
religiões: todas promovem a renúncia, porque partem da constatação de que o ser
humano tende a ser uma figura decaída, viciada, pecadora, urgindo resgatar um
tipo autodisciplinado de comportamento. Mas é preciso, de novo, distinguir: há
quem se autocontrola por motivos religiosos impostos de fora, como ter de pagar
o dízimo a qualquer custo (como se Deus precisasse de dízimo!), bem como há
quem tem automotivação religiosa (religiosidade, não religião) para levar uma
vida regrada, porque acredita que isto constrói uma sociedade melhor e um
sentido alternativo de vida.
Como a humanidade sempre vai de um extremo a outro, o fato de
estarmos fartos de crianças sem limites e de bandidagem à solta sem lei (não só
de bandidos fora da lei, mas principalmente daqueles dentro da lei), pode
provocar o outro extremo: voltar ao Antigo Testamento – dente por dente, olho
por olho. Saber renunciar é fundamental. Talvez seja um dos gestos mais
“formativos”. Mas é sempre preciso perguntar pela razão. Muita renúncia pode
ser apenas exploração: somos obrigados a renunciar, para que o outro desfrute à
nossa custa. Vai nisso também algo de mistério, que a pesquisa não deslindou ou
talvez, por limitações metodológicas, jamais vá decifrar: a renúncia é
necessária por conta de nossos desejos incontidos e destrutivos; desejos são,
porém, uma das energias mais substanciais do ser humano e de outras criaturas
naturais. É uma gangorra sem solução. Mesmo assim, parece claro: não se
constrói uma vida interessante, autossatisfatória e satisfatória para a
sociedade sem renúncia. Este reconhecimento fundamentou por séculos uma
pedagogia do castigo (também físico). Ponto algo de qualquer castigo é obrigar
a renunciar. Não queremos voltar no tempo. Mas podemos ter exagerado no outro
lado: quando as crianças fazem o que querem e os pais veem nisso uma gracinha,
podemos estar cultivando pequenos monstros que, depois, nos vão engolir,
maltratar. O mundo digital pode ter sua parte nesse risco, porque, sobretudo
para crianças, aparece como horizonte infinito de entretenimento, informação,
interação, consumo, aguçando a expectativa de querer tudo na hora.
PARA CONCLUIR
Alguns reparos que coloquei aqui à obra de Baumeister não
deveriam deixar a impressão de que se trata de algo descartável. Quero dizer o
contrário. É surpreendente que este estudo tenha entrando com tanta força em
nossas filosofias de vida, mexendo profundamente com paradigmas vigentes
familiares, educacionais, produtivos, etc. O mais importante é o esforço
ingente de colocar tudo no plano da pesquisa científica, com devidas evidências
empíricas. Chamou-me a atenção o espaço dedicado ao papel das religiões no
autocontrole. Pode ser decisivo na vida de muitas pessoas que, finalmente, se
arrumaram um norte e a eles se subjugam, manifestando, então, um estilo de
convivência mais condizente. A religião é um fenômeno de rara ambiguidade.
Serve para qualquer coisa, também como negação da própria religião. Apesar dos
pesares, não se escapa de constatar que pessoas religiosas apresentam
“vantagens” claras sobre pessoas viciadas. Isto lembra a célebre discussão
sobre liberdade. Todos a querem como bem elevado. Mas, só a temos
relativamente, porque liberdade própria só existe junto com a liberdade dos
outros. Ou seja, liberdade só pode ser bem praticada com devida renúncia. Viver
em sociedade é viver renunciando, como é o caso de casamentos que duram muito:
ambos sabem renunciar. É uma dimensão sui
generis, porque atinge comportamentos naturais – por exemplo, sexo – que se
impõem limitações que agridem a naturalidade da vida. Muitas religiões
prescrevem este tipo de perspectiva: viver com pouco, pretender pouco, não se
impor. Talvez ainda seja a maneira mais prática de ser feliz: saber renunciar.
REFERÊNCIAS
BAUMEISTER,
R.F. 2011. Willpower: Rediscovering the greatest human strength. Penguin Press
HC, N.Y.
BELLAH, R.N.
2011. Religion in Human Evolution – From the Paleolithic to the axial age. The
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
BOLTANSKI, L.
& CHIAPELLO, E. 2005. The New Spirit of Capitalism. Verso, London.
CARR, N. 2010.
The Shallows: What the internet is doing to our brains. W.S. Norton &
Company, New York.
CSIKSZENTMIHALYI,
M. 1991. Flow – The psychology of optimal experience. Harper Perennial,
New York.
DAMÁSIO, A.R. 1996. O Erro de Descartes – Emoção, razão e o
cérebro humano. Companhia das Letras, Rio de Janeiro.
DAMASIO, A.
1999. The Feeling of what Happens – Body and emotion in the making of
consciousness. Harcourt Brace & Company, New York.
DEMO, P. 2001. Pesquisa e Informação Qualitativa. Autores
Associados, Campinas.
DEMO, P. 2001a. Dialética da Felicidade – Vol. 1 – Olhar
sociológico pós-moderno. Vozes, Petrópolis.
DEMO, P. 2002. Complexidade e Aprendizagem – A dinâmica não linear
do conhecimento. Atlas, São Paulo.
DUCKWORTH,
A.L. & SELIGMAN, M.E.P. 2005. Self-Discipline outdoes IQ in predicting
academic performance of adolescents. Psychological
Science 16:939-944.
DUNBAR, R.I.M.
1998. The social brain hypotheses. Evolutionary
Anthropology 6:178-190.
ILLICH, I.
1971. Deschooling Society. HarperCollins Publishers, New York.
LATOUR, B.
2005. Reassembling the Social – An introduction to actor-network theory. Oxford
University Press, Oxford.
MCCULLOUGH,
M.R. & WILLOUGHBY, L.B. 2009. Religion, Self-Regulation, and Self-Control:
Associations, explanations, and implications. Psychological Bulletin 135:69-93.
MCCULLOUGH,
M.E., HOYT, W.T., LARSON, D,B,, KOENIG, H.G., THORESEN, C.E. 2000. Religious
Involvement and Mortality: A meta-analytic review. Health Psychology 19:211-222.
MISCHEL,
W. & AYDUK, O. 2004. Willpower in a Cognitive-Affective Processing System:
Thy Dynamics of delay of gratification. In: Baumeister, R. & Vohs, K.
(Eds.). handbook of Self-regulation: Research, theory, and applications.
Guilford, N.Y., p. 99-129.
MISCHEL,
W. 1974. Processes in Delay of Gratification. In: Berkowitz, L. (Ed.). Advances
in experimental social psychology. Academic Press, San Diego, p. 249-292.
MISCHEL,
W., SHODA, Y., PEAKE, P. 1988. The Nature of Adolescent Competencies predicted
by preschool delay of gratification. Journal
for Personality and Social Psychology 54:687-696.
PINK, D.H.
2009. Drive – The surprising truth about what motivates us. Riverhead Books,
New York.
SELIGMAN, M.E.P. 1993. What you can change
and what you can’t change: The complete guide to successful self-improvement.
Alfred A. Knopf, N.Y.
SHERMER,
M. 1997. Why People Believe Weird Things – Pseudoscience, superstition, and
other confusions of our time. W.H. Freeman and Company, New York.
SHERMER,
M. 1999. How We Believe – The search of God in an age of science. W.H. Freeman
and Company, New York
SHODA,
Y., MISCHEL, W., PEAKE, P,K. 1990. Predicting Adolescent Cognitive and
Self-regulatory competencies from preschool delay of gratification: Identifying
diagnostic conditions. Developmental
Psychology 26:978-986.
STEEL, P. 2007.
The Nature of Procrastination: A meta-analytic and theoretical review of
quintessential self-regulatory failure. Psychological
Bulletin 133 (1):65-94.
STEEL, P. 2011.
The Procrastination Equation. Harper, N.Y.
TANGNEY,
J.P., BAUMEISTER, R.F., BOONE, A.L. 2004. High Self-control predicts good
adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality 72:271-322.
TIBA, Içami. 2007. Disciplina - Limite na medida certa.
Integrare Editora, São Paulo.
TIBA, Içami. 2007a.
Quem Ama, Educa! Integrare Editora, São Paulo.
WOLFE,
R.N. & JOHNSON, S.D. 1995. Personality as a predictor of college
performance. Educational and
Psychological Measurement 55:177-185.
Tais sinalizadores são bips que soam em intervalos determinados pelos
pesquisadores para colher e controlar dados. Um dos mais conhecidos
pesquisadores a usar esse método de coleta foi o conhecido psicólogo do “flow”: Csikszentmihalyi (1991). Como já
aleguei, não vou questionar esta propensão empirista do método, mesmo que fosse
fácil mostrar que possivelmente mais deturpa do que trabalha tais dinâmicas
reduzidas a manifestações mensuráveis (Demo, 2001). Como toda dinâmica complexa
também apresenta recorrências que podem ser formalizadas pelo método
científico, apesar do reducionismo empirista, é possível obter insights
pertinentes (Demo, 2002).
Sobre o autor: Prof° Dr. Pedro Demo,Doutor em Sociologia pela Universidade de Saarbrucker, Alemanha; pós –doutorado na UCIA – Los Angelas; técnico de Planejamento e Pesquisa IPEA; professor - titular da Universidade de Brasília; autor de mais de 40 livros; conferencista de Renome Internacional. Algumas publicações do autor: Desafios Modernos da Educação, Conhecimento Moderno, Assessor para a Tele Educação, Política Social do Conhecimento, Dialética da Felicidade, Avaliação Qualitativa, Pobreza Política, LDB – Avanço e Ranços, e Educação Cultura e Política Social. Aqui curriculum vitae completo , Blog: http://pedrodemo.blogspot.com.br/
Facebook: pedro.demo ; E-mail: pedrodemo@gmail.com .